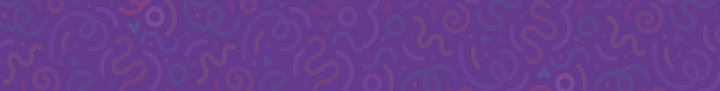O cinema que não tinha cadeira para sentar

Todo dia às cinco horas da tarde eu tinha um compromisso inadiável. Antes, porém, Dona Bernadete me policiava para tomar banho logo – até quando pode me controlar – e só então era hora de assistir minhas séries preferidas na TV, aproveitando o segundo horário do dia que eu tinha autorização para ligar a televisão, um privilégio de poucos em Jaguara porque não tinham muitos aparelhos no início da década de 70. Naquela época, praticamente só exibia produções estrangeiras, especialmente as americanas. Digamos que existia até uma certa afinidade entre a gente. Afinal, o que sobrava em Jaguara era muita poeira, tal qual no velho oeste americano, cenário dos filmes e séries que mostravam bandidos e mocinhos de arma em punho montados em cavalos arredios e afoitos que a gente imitava em cima de cabos de vassoura a subir e descer as ladeiras do distrito. Entre os filmes preferidos tinha os de Durango Kid e seu cavalo ou Bat Masterson, uma figura lendária do velho oeste americano que estrelou mais de 100 episódios entre 1958 e 1961 – ano que eu nasci -, mas que só chegou por aqui quase 15 anos depois. Se assistir televisão era um privilégio, imagine ver um filme no cinema. É claro que Jaguara não tinha cinema, mas nem por isso deixamos de ver filmes na telona, mas tudo de forma improvisada. Quem vai ao cinema hoje com tanto avanço tecnológico em imagem e som que praticamente nos transporta para dentro dos filmes nem pode imaginar como era o nosso cinema. Som dolby digital ou efeito surround? Nem sonhar, até porque essa tecnologia não existia. Ao contrário das telas atuais, que têm sua qualidade medida em pixls, em Jaguara o cinema ocasional tinha uma tela improvisada com lençóis e o áudio em duas caixas de som colocadas na frente. Sabe onde o nosso cinema funcionava? Os filmes eram exibidos esporadicamente algumas poucas vezes no pequeno mercado municipal, um galpão onde aos domingos se vendia carne, frutas, verduras, roupas e bugigangas de toda espécie. Para ir ao cinema não bastava só comprar o ingresso. Não tinha cadeira e quem não quisesse sentar no chão precisava levar sua própria cadeira ou tamborete de casa. Com tanta improvisação, os filmes também não eram nenhum blockbuster arrasa quarteirão. Eram produções simples, todas americanas, nada muito novo e o gênero era um só: o faroeste, aquele mesmo que a gente via na TV e gostava tanto. Nada disso tirava a nossa alegria de ver a atuação de atores que eram ícones na pele de cowboys destemidos, como John Wayne, Bud Spencer e Terence Hill em Trinity e personagens como Django e sua famosa metralhadora. Cinema de verdade ficava em Feira. Além de exibir filmes mais atuais, o conforto não tinha nem comparação. Poltronas acolchoadas, ar condicionado, aquela pipoquinha deliciosa e uma tela de verdade era tudo de bom e que deixava a ida ao cinema ainda mais agradável. O Íris e o Timbira, os dois cinemas que existiam na cidade quando cheguei para estudar, recebiam os lançamentos nacionais e tiveram seus momentos de casa cheia, como nos filmes dos Trapalhões e outras produções brasileiras e internacionais. No começo era um programa sem maiores problemas, até porque era novidade pra mim que vinha da roça. Dificuldade mesmo foi quando o menino já era adolescente e queria ver filmes não tão inocentes, mas não tinha idade para assistir. O diabo era driblar os porteiros, como Vicente, que passou anos controlando a entrada do Íris, e ver aqueles filmes brasileiros cheios de malícia e de uma sensualidade estupidamente explícita, com cenas que deixavam a garotada em polvorosa, para dizer o mínimo. Neste gênero, reinavam absolutas as produções brasileiras que tinham atores como Nuno Leal Maia e Sônia Braga, que atuavam num filme atrás do outro, como em A Dama do Lotação, onde a nossa eterna Gabriela cravo e canela exibia suas formas exuberantes na adaptação da estória picante de Nelson Rodrigues. Se quisesse entrar no cinema sem maiores problemas não podia ir de farda do colégio porque era barrado mesmo, afinal a turma deveria estar filando aula e isso poderia dar problema para o porteiro. Era por volta da metade de década de 70 quando um filme fez o maior sucesso de público, especialmente entre os adolescentes, que faziam fila para ver O Império dos Sentidos, que contava a estória de uma ex-prostituta japonesa e seu patrão, num drama cheio de cenas ousadas e na medida para aguçar a curiosidade e a libido da turma. O sucesso era tanto que um dia a irmã mais nova de um dos nossos colegas encasquetou pra ir ver o filme com as amigas mesmo alertadas que não iam gostar porque era muito pesado pra idade delas. Não adiantou muito e diante de tanta insistência topamos levá-las ao cinema. Com vergonha, as meninas sentaram umas três fileiras distantes da nossa para que não fossem observadas enquanto o filme rolava. Mas nem precisou tanta precaução. Bastou uma cena um pouco mais pesada para que elas levantassem e fossem embora correndo enquanto a gente se acabava de dar risada com a saia justa que as meninas se meteram. Não foi por falta de aviso.
*Por Marcílio Tavares Costa – Jornalista